Sobre comida e a Berlinale (I)
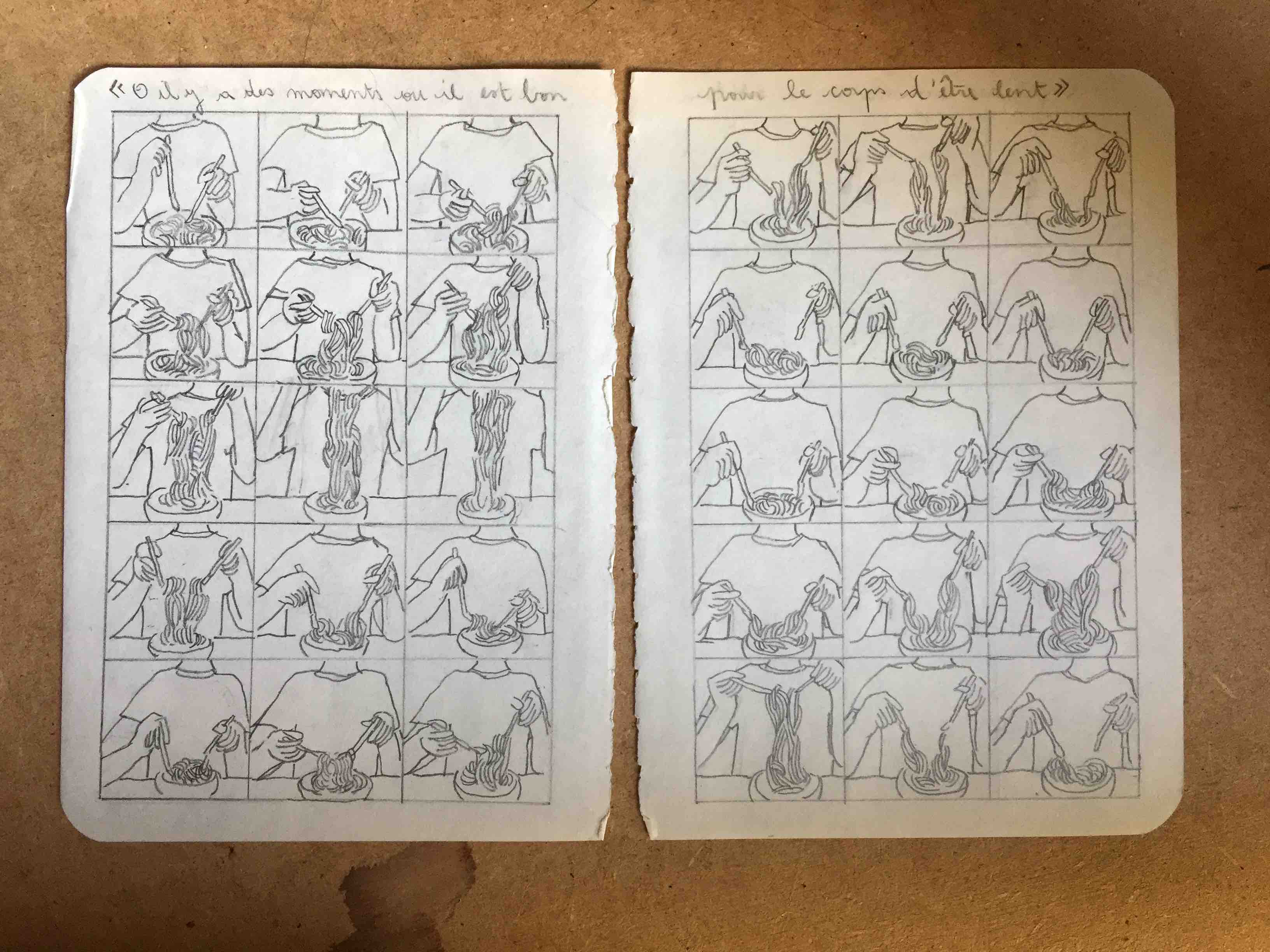
Uma palavra antes de mais: A fim de proteger a minha língua materna, o cantonense, e homenagear os antigos intérpretes sinólogos macaenses, romanizo neste artigo os nomes chineses em cantonense – a par do mandarim, segundo a romanização oficial macaense do chinês.
A adaptação à expansão de um universo
Depois de seis meses fora, regresso a Berlim. Já são três anos na capital alemã e apercebi-me recentemente que tenho mais um ano de vivência aqui do que em Portugal ou na Bélgica. O mito que para mim era a Europa – proveniente directamente da minha fantasia sobre os grandes Kulturkreise (círculos de culturas) – e que costumava adorar contar a quem gostasse de ouvir, não é mais válido agora: tinha imaginado uma Alemanha que fazia parte de um único ocidente que, por sua vez, abrangia também Portugal e a Bélgica. Uma visão imaginária que decididamente não corresponde à realidade.
As minhas experiências de vida nas províncias do Chequião (Zhejiang oficialmente, ou Chit Kong em cantonense) e de Cantão (Guangdong ou Kuong Tong) permitem-me fazer uma comparação complexa com a Europa: as duas mentalidades destas duas províncias são muito diferentes. Imagine-se dois países europeus que tiveram diferentes vias de evolução dentro das suas fronteiras políticas.
Deixei Macau há sete anos. Hoje, consigo apreciar uma salada (embora prefira comer salada cozida), venero café (mesmo que beba sempre com leite de soja baunilha), e já não recuso de imediato o falso pato assado à cantonense preparado pelos vietnamitas. Também se tem tornado mais interessante criticar a Europa, especialmente Berlim, do que criticar Macau ou a China. Se calhar, é a isto que se chama “habituar-se” a uma outra cultura.
“Perdoo” os meus caros amigos berlinenses que apreciam a “falsa” cozinha asiática. Não que concorde com este sabor “adoptado” – aqui na Alemanha gostamos de dizer eingedeutscht (germanizado). O mesmo se passa com o kimchi ou o pane all’aglio em Hamcheu (Hangzhou ou Hong Chao), que são mais saborosos do que as versões originais. Então, não posso mais do que “perdoar” alguns dos meus caros amigos europeus por esta atitude que fui encontrar na minha própria pessoa. De certa forma, poderíamos dizer filosoficamente que não existe o “autêntico” nem o “falso”, mas a forma como descrevemos as palavras, sobretudo quando o “falso” faz parte do “autêntico”.
É com esta mesma lógica que “perdoo” os curadores alemães que organizaram uma retrospectiva do cinema de Hong Kong conseguindo não incluir um só filme de Stephen Chow, que, como adoro dizer, é para os cantonenses, uma figura mais importante do que Confúcio. Vejo que muitos europeus procuram e esperam sempre, de uma forma utópica e eurocêntrica, um estetismo “universal”.
A Berlinale
E depois de escrever esta introdução, parágrafos de pura conversa fiada, e que fazem com que pareça que estou a fugir ao tema, é que começo o meu artigo. Esta conversa fiada não é se calhar mais irrelevante se pensar em todas as ideias que tinha na cabeça quando decidi ir ver um batalhão de filmes – sobretudo os filmes “sinófonos” – à Berlinale, o Festival Internacional de Cinema de Berlim.
Ao ver estes filmes, apercebi-me de uma espécie de inovação a que chamaria de rebelião institucionalizada. Este ano, houve uma surpreendente conformidade em termos estéticos e políticos. Os temas dos filmes pareceram-me sempre demasiado “presentes”, demasiado claros, demasiado “problematizados” ou “problematizantes”. Foram pelo menos estes termos que a minha fantasia formou nesta ronda que fiz à Berlinale.
Especifico aqui os filmes “sinófonos”: I Dream of Singapore de Lei Yuan Bin, em inglês, bengalês e (oficialmente) fuquinense; Ping Jing (The Calming, Peng Cheng) de Song Fang (China) em mandarim e em nanquinense; Suk Suk (Shu Shu em mandarim) de Ray Yeung (Hong Kong) em cantonês; Rizi (Days, Iat Chi) de Tsai Ming-Liang (Taiwan) em mandarim; e o filme brasileiro Cidade Pássaro de Matias Mariani em igbo e em português, embora venha anunciado que é em mandarim. Na realidade, no filme só tem uma cena em mandarim, curtíssima, sobre ainda escreverei uma crítica em chinês-mandarim.
Durante uma destas passagens pela Berlinale, lembro-me ainda de como uma jovem recepcionista alemã pareceu surpreendida quando lhe disse que, para mim, os filmes seriam certamente lindos. Quando falo uma língua europeia, tenho a tendência a economizar as palavras como o faria em cantonense. Isto para tentar ser mais claro. Se pudesse reformular a minha breve frase, diria assim: Os filmes cujo orçamento é considerável deveriam ver a criação de imagens objectivamente lindas como uma escolha que os cineastas têm a autonomia de fazer ou não. É neste sentido que aprecio bastante ver belas imagens, mas o que gosto mais é de que este conjunto cinematográfico me inspire filosoficamente.
A fantasia da conformidade
Com todo o respeito e a admiração que tenho pela estética das suas politizações, os quatro filmes em língua chinesa acima mencionados partilham, na minha opinião, de uma certa maneira, de algumas semelhanças: as imagens são lindas, o ritmo é relativamente lento (senão lentíssimo em Rizi), e estes são sobretudo filmes a que chamaria “universalmente belos”. Sobre esta conformidade percepcionada, gostaria de fazer aqui duas declarações pessoais: em primeiro lugar, na minha prática do Instagram, ocorre-me também que tento corresponder ao meu próprio estilo para não ter imagens “fora da conformidade”, e esta auto conformidade corrompe às vezes um pouco o meu espírito estético ou, pelo menos, redirecciona-o – mesmo que eu pense que é o facto do espírito estético estar “corrompido” que me faz mudar um pouco de perspectiva. Numa mesma lógica, fantasiei e imaginei sempre – com esperança – que, este ano, a Berlinale me surpreendesse.
Em segundo lugar, tenho sempre a tendência para olhar para a semelhança das coisas. Para melhor explicar, vem-me um exemplo à cabeça: quando estive na Coreia para apresentar uma das minhas curtas-metragens, eu via, enquanto asiático, as comidas cantonense e coreana como “semelhantes”, enquanto a Mathilde, europeia, não via qualquer semelhança.
Não fui muitas vezes à Berlinale. Visitei o festival ao longo de três anos – em 2015, 2018 e 2020. Não posso dizer se fiquei surpreendido, mas talvez seja mesmo isso que me surpreendeu. Se aqui devo justificar o julgamento que faço sobre as semelhanças de filmes, não é porque seja pretensioso ao ponto de fingir que nenhum destes filmes me trouxe algo. Muito pelo contrário, cada um destes quatro filmes inspirou-me de maneira diferente. Posso talvez dizer que tenha sido demasiado ganancioso ao procurar ver algo que me comovesse mais agressivamente.
Provavelmente influenciado pela minha área de estudo, a Antropologia Visual, tornou-se claro que tenho uma infeliz tendência para fixar a minha atenção em dois aspectos quando vejo um filme – e isso acontece particularmente quando estou na Berlinale: a vitimização ou o que chamaria também de auto problematização e a exotização dos sujeitos e objectos dos filmes. Rizi é um filme lentíssimo (em duas horas não há muitas cenas), e inclui uma cena de sexo entre Kang (Lee Kang-sheng) e Non (Anong Houngheuangsy) que é o destaque do filme. A lentidão do filme deu-me muito espaço para reflectir sobre uma pilha de coisas – e que na maior parte nada tinha a ver com o próprio filme – o que me permitiu surpreendentemente viver os momentos do filme como se a história me fosse contada.
Foi um pouco como se tratasse da realidade. A lentidão de ‘Rizi’ deu-me a possibilidade de criar um espaço ilimitado de imaginação e fantasia. Seria interessante que o filme fosse mais longo, mais lento e sem diálogos. O filme venceu o Teddy Award, e sendo eu um simples espectador, a razão pela qual gostei tanto da obra é porque nunca cai na lógica de vitimização dos homossexuais. Mas nem todos partilharam esta opinião. Tomei nota dos comentários de três alunos alemães do primeiro ano de cinema na Escola Superior Beuth de Berlim, que viram o filme na mesma sessão que eu, no Friedrichstadt-Palast:
“Rizi é o equivalente às pinturas de arte moderna sobre as quais as pessoas diriam: “O meu filho de três anos era capaz de fazer a mesma coisa.”
– Annika Lewandowski –
“Lindas imagens, mas se calhar no conjunto simplesmente um pouco longo demais – o conteúdo poderia também ter sido contado numa curta metragem de 20 minutos.”
– Viviane Hofmann –
“Creio que poderia considerar a história interessante se a tivesse compreendido bem. Infelizmente o filme foi extremamente e demasiado longo, que não pude manter a minha concentração.”
– Karim Ahmad –
Da mesma forma que apreendi a beber whisky e a compreender a lógica europeia da composição das cores com os meus caríssimos amigos europeus, apreendi igualmente a apreciar a lentidão com eles. Se devia fazer uma lista destes quatro filmes que vi, partindo do mais lento até ao mais rápido, escolheria esta: Rizi de Tsai Ming-Liang; Ping Jing de Song Fang, Suk Suk de Ray Yeung e I Dream of Singapore de Lei Yuan Bin.
Para ser franco, não penso que Rizi seja um filme longo – a morosidade deste filme foi para mim algo que consumi agradavelmente, como se tratasse de um copo de whisky ou como o é a própria lógica europeia de composições de cores – em Berlim é relativamente minimalista. Ping Jing e Suk Suk, em contrapartida, têm outra velocidade. Quanto a Ping Jing, a maior surpresa foi que apresenta muitos diálogos num dialecto que suponho que seja o nanquinense. Para uma pessoa que não esteja familiarizada com a língua chinesa, é difícil distinguir este aspecto. Para mim, estes diálogos foram o mais precioso neste filme, que venceu o CICAE Art Cinema Award. De novo, com esta minha sensibilidade muito influenciada pela antropologia, senti-me incomodado quando li o comentário do júri sobre o filme, referindo “das Thema universell” (…um tema universal). Tenho-me tentado adaptar ao uso desta palavra uma vez que na Europa é legítimo este eurocentrismo, embora eu não seja um admirador desta ideia de “universo”.
Na segunda parte do artigo, vou escrever sobre os restantes filmes – e sobretudo sobre o aspecto de “exotização (in)voluntária como estratégia” com um “olhar político/politizado”.











